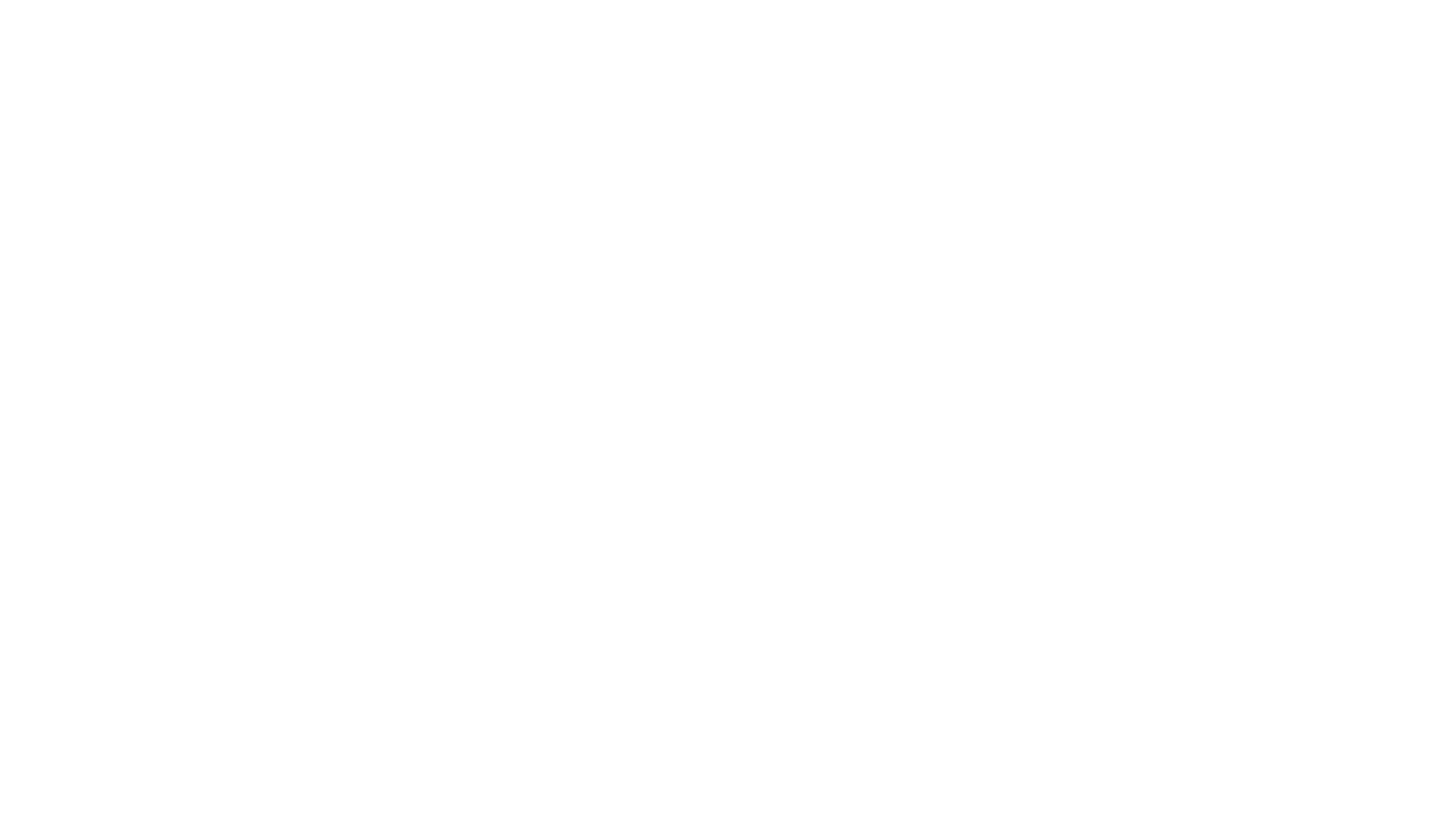Marielle Francisco da Silva nasceu em 1979, em plena ditadura militar. Mulher, negra, mãe, lésbica, defensora dos direitos humanos e cria da Maré, complexo de favelas na Zona Norte fluminense, adotou o nome Marielle Franco ao entrar para a política. Ali, no ano de 2016, teve mais de 46 mil votos em seu primeiro pleito eleitoral. A expressividade de sua eleição já mostrava o alcance de sua plataforma política de caráter coletivo. Coletividade essa que é marca da experiência de organização negra. Basta olharmos para os momentos de emancipação e pós-abolição para reconhecermos tal caráter coletivo.
Ao se posicionar enquanto sujeito político, com nome e sobrenome, a vereadora ainda trazia consigo um ensinamento ancestral, imortalizado na célebre frase da antropóloga brasileira, também negra, Lélia González: “Negro tem que ter nome e sobrenome, senão os brancos arranjam um apelido… ao gosto deles”. Autodenominar-se é uma ação que remonta à experiência de mulheres negras desde o período escravista. Aos escravizados e escravizadas não era permitido manter seus nomes africanos, tampouco era possível escolher os nomes para os seus filhos. As crianças não eram sequer entendidas como indivíduos pela sociedade escravista, mas como mercadorias. O que em si dá início a morte de subjetividades. Imagine o que não acontece quando uma população inteira passa por isso.
A subjetividade negra fora e continua sendo cotidianamente assassinada. E não à toa. Matar a subjetividade negra é parte de um projeto de interrupção e exclusão que marca o período pós-abolição. Na última vez em que Marielle ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, esse, nada à toa, era o tema de sua fala.
Aliás, sua brutal execução faz parte desse antigo processo de interromper a existência de alguém que é coletivo sendo um. Ser Marielle era explicitar a existência corporal da interseccionalidade – um cruzamento de opressões que se fazem corpo e ditam experiências múltiplas. Não é exagero dizer que muitos se viam nela. Essas são intersecções que se configuraram em lugares de fala, e que têm o poder de restituir tantas humanidades já negadas.
Vejam, tratar da história de nosso país exige que tratemos de todas essas intersecções, exige mencionar passados que insistem em se fazer presentes. A violência desferida sobre corpos não-brancos é uma realidade desde a chegada dos europeus. No pós-abolição há um incremento naquilo que o filósofo camaronês Achille Mbembe denomina como necropolítica, a qual tem o racismo como cerne, e que nas suas palavras tem como função “regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado”. Esse projeto traz consigo a morte física, mas também a morte simbólica: a das possibilidades – constantemente transgredidas e interpeladas, ainda mais quando o racismo vivenciado nos corpos racializados encontra-se num mesmo corpo com outras marcas, como no corpo das mulheres negras.
Ver um corpo negro com nome, sobrenome, altivez e dotado de dignidade significou, para alguns, ousadia demais. E bem por isso fora impossibilitado de seguir. Também por isso a brutalidade que marcou a morte. Cada mulher negra morreu um pouco (ou muito) com Marielle. Acredito, porém, que da tragédia tenha nascido potência, intensificada ao longo desse último ano sem sua presença física.
Uma das tantas mensagens viralizadas nas redes sociais não me deixa duvidar: “Ontem dormi com medo, mas Marielle me apareceu em sonho. E me desejou força e coragem”. A despeito dos impedimentos de ser, pessoas negras são e serão. E convém lembrar que sobrevivem na medida exata da dedicação de nossos ancestrais, outrora e ainda hoje trabalhadores em todas as frentes, fazendo do corpo e do intelecto instrumento de sobrevivência material, mas sobretudo de existência, tal e qual Marielle.
Encerro esse texto com palavras coletivas do grupo de historiadorXs negrXs, publicadas sob forma de manifesto em 14 de março de 2018, dia do assassinato de Marielle: “À Marielle (…) que, com amor e bravura, ousou fazer de sua vida a demonstração de outros destinos possíveis para sua gente, gente como nós, o nosso muito obrigado pelos ensinamentos deixados. Memória não morrerá! Seguimos em luta! Como cantam nossas griôs, ‘nós que acreditamos na liberdade não podemos descansar até que ela seja alcançada!’”.
*Texto escrito por Fernanda Oliveira, doutora em História pela UFRGS, coordenadora da Setorial Sul do grupo de trabalho Emancipações e Pós-Abolição da ANPUH e idealizadora do Coletivo Atinúké, sobre o pensamento de mulheres negras, em Porto Alegre.
Fonte: Revista Marie Claire