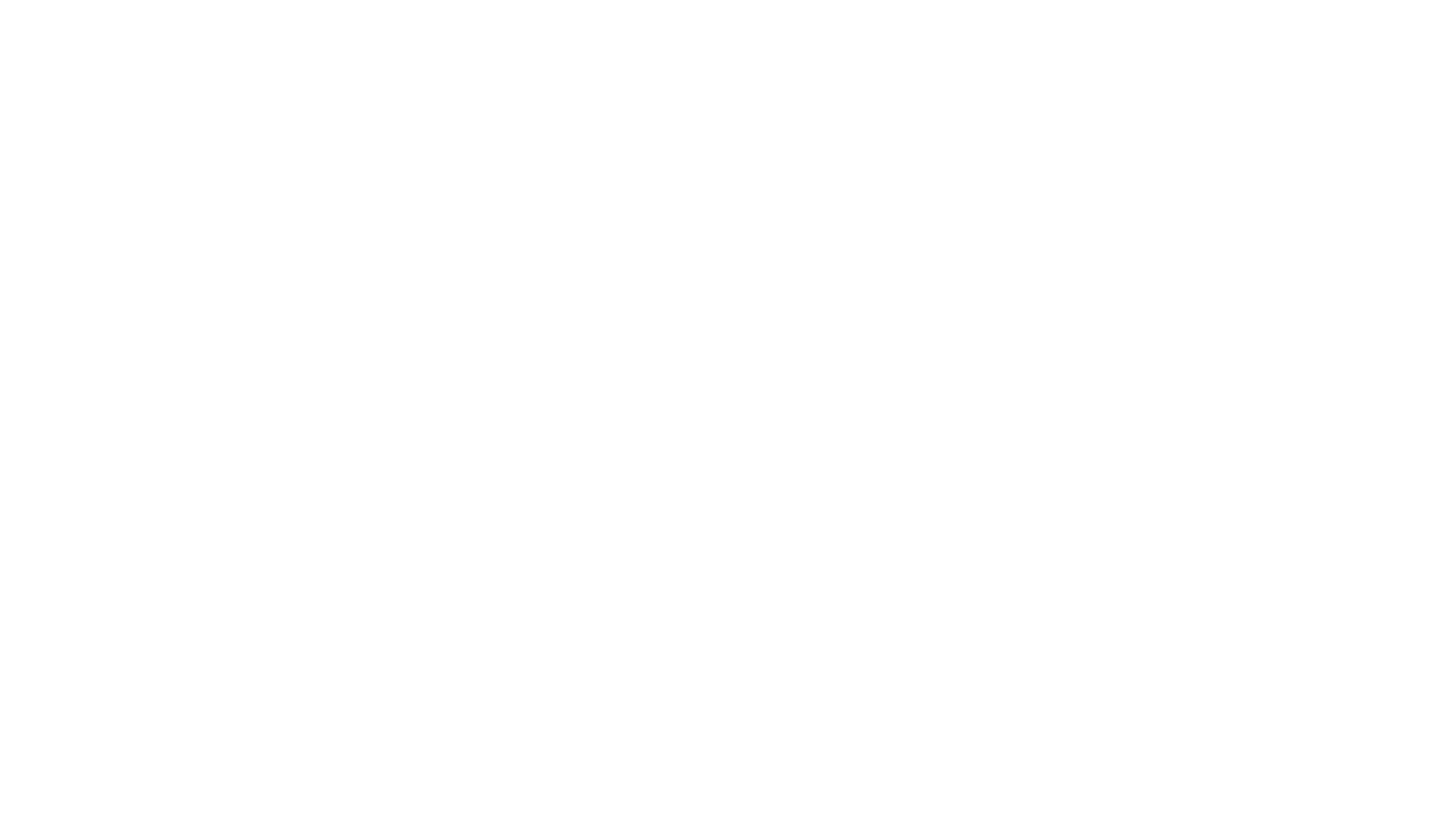Era um sábado ensolarado, céu azul, vento suave. Às 14h, os participantes da Grande Roda de Tambores nos esperavam no Instituto Paranaense de Cegos, em Curitiba. A experiência dessa vez não envolvia uma vivência com os residentes do local. Ia além: queria cavar dentro de nós, voluntários, os pedaços de preconceitos e resistência que guardávamos, sem nem perceber. Como fazer isso? Fechando os olhos e alterando os sentidos.
Sim, na entrada do local, todos os 15 voluntários foram vendados. Com a garantia de que nada pudesse escapar, a atividade começou. Passamos por longos corredores até chegar a primeira sala. Cada grupo tinha um guia que cuidava dos passos, orientava os caminhos e nos mostrava onde sentar. Era como no Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, e pensava na guia do grupo como a única mulher que não foi afetada pela cegueira, a mulher do médico.
Na primeira sala, ficamos sentados submetidos a vários sons. Tudo simultâneo, barulho de água, música, conversas, tiros, barulho de guerra, sons que nos remetiam a várias situações, mas a nenhum programa específico. Durante esse tempo, o grupo manteve-se, a maioria, em silêncio. Ninguém dava coordenadas, ninguém conversava conosco. Sim, sensação de abandono. Nos largaram ali, onde era mais conveniente.
Ao final, sem explicações, só alguém pedindo que levantasse e organizando a fila. Sim, andávamos um segurando no ombro do outro. Um grande problema: você confia em outra pessoa te guiando? Onde vou parar?
Em certos momentos, me sentia a menina que tirou a roupa no centro de Londres em nome do próprio corpo e também vendou os olhos: me sentia vulnerável. Até que ponto depender dos outros é bom? Ou é ruim? Qual o limite de coisas que podemos fazer sozinhos e que podemos depender dos outros? Quanto confiamos nos outros?
Não imaginei que me sentiria tão insegura e tensa. Andava presa ao meu parceiro da frente, sempre com medo de perdê-lo, mas a passos muito curtos. O que viria era sempre uma surpresa: podia ser a mudança do tipo de piso, a altura do piso, o sol, a sombra, as conversas no ambiente.
Passamos por uma experiência com um áudio, que parecia muito real, mas era só uma narração. Comidas, que eu nunca sabia se era pra comer, sentir, cheirar. Por fim, alguns objetos de jardinagem que passaram por nossas mãos, massinha de modelar, papel e lápis de cor para desenhar tudo que os objetos nos transmitiram. Eu lembrei dos domingos que passei cuidando do jardim com meu pai. Tentei representar com a massinha. Impossível. Desenhei uma casa, um jardim e um chapéu. Não sabia onde o risco anterior estava para dar continuidade.
Subimos uma rampa, sentamos. “Podem tirar a venda!”, anunciavam os organizadores. “Pode mesmo?”, “pode”. Todos se olhavam sorridentes e começamos rapidamente a falar. Estávamos no refeitório do Instituto, onde alguns moradores tomavam café.
A primeira atitude foi levantar e refazer o caminho. Onde estavam os pássaros não existia árvore nem grama, como pensamos. Todos olhavam atentos a tudo e comentavam como nunca fizeram isso antes. Como o igual virou exceção naquele dia.
O experimento abriu o coração para o que se seguiria: um sanfoneiro cego que apareceu para nos deliciar. Tocou “as mocinhas da cidade”, enquanto, levemente esquecidos da letra, tentávamos alcançar o senhor que, entre uma música e outra, contava alguma anedota de como aprendeu a tocar sanfona – “ainda estou aprendendo”, dizia ele.
Não fosse suficiente, apareceu o Wilson, músico angolano. Chegou ao Brasil com 14 anos, junto com um grupo de cegos que veio aprender braile para ensinar em Angola, passou por um sufoco danado em Minas Gerais, mas acabou socorrido por um voluntário que levou o caso de maus-tratos à mídia e ao governo angolano. Acabou em Curitiba, onde está até hoje. Além do braile, aprendeu informática, fez ensino fundamental e médio e agora está na faculdade. O plano de voltar pra Angola foi se alongando por conta das burocracias, mas deve acontecer assim que a faculdade estiver concluída.
Para ele, o único problema em ser cego é o sentimento de pena que as pessoas demonstram. Mas quando o perguntam se o certo é dizer que ele cego ou se é deficiente visual, ele logo diz: nenhuma das duas.
Porque eu enxergo, mas enxergo de um jeito diferente. É difícil pra quem tem a visão como algo tão importante entender isso. O certo é dizer que eu tenho deficiência ocular, só no olho. E é importante lembrar que somos todos deficientes porque não somos eficientes em tudo que fazemos.
No fim, o que mais fazia sentido em aprender a ver sem os olhos era o conhecimento e o amor. O conhecer o outro – as dúvidas, medos, amores, sentimentos e sentidos. Entender que todos temos problemas, a diferença é que esses problemas são reconhecidos e ensinados de tamanhos diferentes. Por isso, conhecer, sem pena e sem julgamentos. No fim, o amor é isso – e é reinventá-lo a cada dia. Tateando o outro e descobrindo as chaves, sem preconceitos ou estereótipos. Um amor que vai além do conforto, porque ele é busca, descoberta e doação mútua.
O quanto estamos dispostos a conhecer o outro e a nós mesmos?
Quer participar do próximo? Acompanhe a página no Facebook e fique por dentro dos eventos. Agora confira o vídeo da ação:
Cirandeiro IPCFoi uma experiência realmente inesquecível #projetocirandeiro #granderodadetambores #vivaagranderoda
Posted by Grande Roda de Tambores on Monday, August 24, 2015