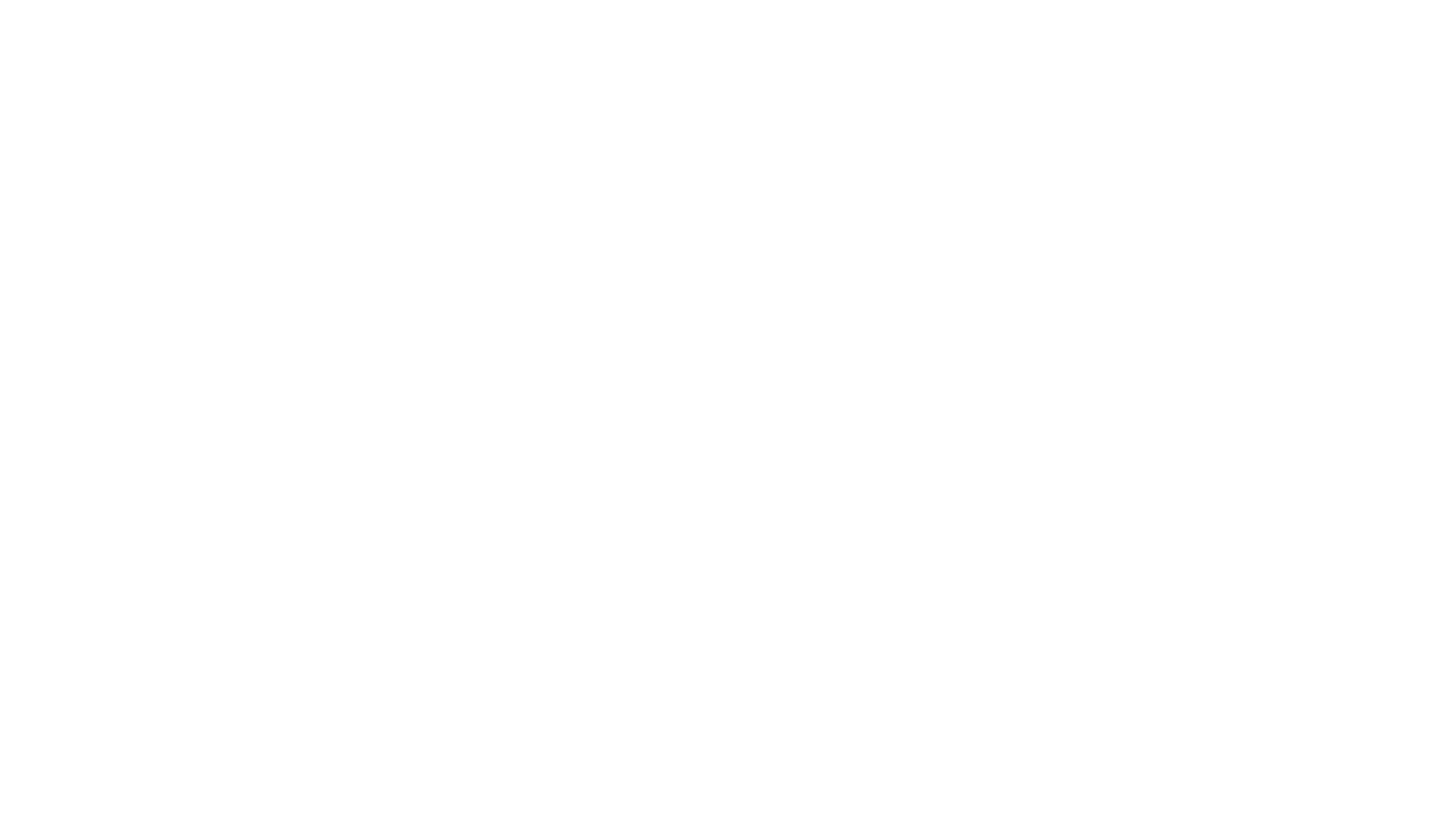Daniel Boa Nova deu um show: aceitou o Desafio Hypeness e resolveu encarar os moradores de rua como seres visíveis, ou seja, pessoas que existem, tem uma história, sonhos e gostos. Para conseguir se ambientar, Daniel participou do Entrega por SP (uma ação que entrega kits de higiene, comida, água mineral, conversas e amor) e trouxe várias histórias pra gente. Confira:
Desafio Hypeness: o que aconteceu quando parei de fingir que moradores de rua são invisíveis
Quando era pequeno, no meu bairro tinha o Cabeção. Cabeção morava no quarteirão seguinte, nos escombros do que deve ter sido uma casa. Sua aparência me dava um pouco de medo, eu achava que um dia ele poderia me atacar. Mas a grande verdade é que, até onde sei, Cabeção nunca fez mal a ninguém.
O barraco onde ele morava acabou dando lugar a um prédio. Ainda avistei o cara umas tantas vezes pela vida afora, vagando por diferentes pontos da região. Passou anos e anos na rua, fomos vizinhos durante boa parte da minha infância e eu nunca soube muito mais do que seu apelido e a situação em que se encontrava.
Se você habita uma grande cidade brasileira, é bem capaz que conviva com algum morador de rua no seu bairro. É bem possível que já lhe tenha doado alguma roupa, alimento ou dinheiro. E também é provável que nunca tenha parado para conversar e entender como ele chegou até ali. Estou aqui fazendo suposições sobre a sua vida, mas sem julgamentos ou atribuição de culpa. Apenas imagino que você tenha alguma história semelhante a essa minha com o Cabeção.
É paradoxal. Ao mesmo tempo em que nos sensibilizamos, nos sentimos impotentes. Grande parte das vezes, fingimos não ver para não nos deixarmos afetar. O que se há de fazer? Ninguém aqui no Hypeness tem a pretensão de ser salvador da pátria. Mas acreditamos que, compartilhando histórias e trajetórias, podemos compreender mais profundamente o mundo em que vivemos para quem sabe torná-lo um pouquinho melhor do que aquele que encontramos. Foi por isso que recebi a missão de sair às ruas e trocar uma ideia com alguns dos que dormem nelas.
Eu sabia que encontrar não seria difícil, meu bairro sempre tem gente pelas calçadas. A dúvida era mais sobre como abordar e quais as possíveis reações. Para me ambientar nesse universo, participei de uma ação do Entrega por SP.
O projeto foi criado há alguns anos de forma independente e voluntária. Começou com um grupo de amigos e, desde o início, para participar basta chegar. Ao menos uma vez por mês, o Entrega por SP se reúne na Praça Charles Miller e monta kits com água, alimentos, produtos higiênicos, cobertores, meias e outras peças de roupa, que são distribuídos a moradores de rua pela madrugada. O princípio do grupo é não apenas entregar, mas também “se entregar”. Conversar com as pessoas, ouvir suas histórias, dar abraços, sorrisos e qualquer outro gesto humano que estiver ao alcance.
Na noite de quinta-feira em que participei, cerca de 50 pessoas contribuiram trazendo doações, montando mais de 400 kits e saindo para a entrega. Vale ressaltar que nenhuma instituição política ou religiosa está por trás da iniciativa.
Dois aprendizados que a experiência me deu para seguir com a matéria: primeiro, não prometer aquilo que não sou capaz de prover ou estou disposto a cumprir. Dizer que vou voltar no dia seguinte, que vou trazer um advogado, um médico, um dentista, um colchão. É muito fácil se sair com uma dessas para confortar um pedido desesperado. No entanto, fazer uma promessa vazia acaba se tornando uma nova fonte de frustração para quem já tem tantos problemas.
Outro aprendizado foi o de não chegar oferecendo algo sem antes conversar. Isso torna a entrega mecânica e distante. E posso acabar dando o que a pessoa não quer receber. Por isso, em todas as minhas abordagens individuais, primeiro me apresentei e contei o meu objetivo para só depois perguntar se podia pagar uma refeição.
Tendo essas considerações em mente, no sábado saí em busca de interlocutores pelo asfalto.
Eu já tinha visto o cara várias vezes pelo bairro. Nesse dia, descobri que seu nome é Wagner, que nasceu em Santana, na Zona Norte de São Paulo, que tem 36 anos e um filho. Ele passa o dia ali e depois caminha até a Avenida Paulista, onde costuma dormir na porta de um banco:“Eu fico sentado aqui. Tem vezes que eu peço, tem vezes que eu não peço. Ficar pedindo é meio chato. Quem quer dar, dá. Já tá vendo que eu não tô numa situação boa.”
Wagner tem uma história parecida com a de outros moradores de rua, que envolve uma adolescência sem moradia fixa pulando de casa em casa e, mais tarde, de emprego em emprego. Hoje ele recebe auxílio financeiro do governo através da LOAS. Não perguntei, mas pelo que li sobre os critérios para ter o benefício, imagino que ele tenha comprovado alguma limitação de natureza intelectual ou sensorial como forma de receber o auxílio.
Com minha história pessoal, descobri semelhanças no gosto musical. Wagner é fã de Chemical Brothers e, no final dos anos 90, frequentou baladas das quais me lembro bem, como Sound Factory, Broadway e Hell’s Club. Ele não aceitou o almoço que me ofereci a pagar, disse que se alimenta pouco porque passa mal quando come muito. Me pediu apenas um café e, se possível, um tênis. No mesmo dia, voltei ali e deixei com ele um par que vinha acumulando poeira no meu armário, além de uma garrafa d’água.
Pergunto ao Wagner se ele tem algum sonho na vida. “Meu sonho é ser produtor. Produtor de música na origem e design. Designer de tênis, desenhar as roupas, fazer tipo estilista, tá ligado? Fazer de tudo: prancha de surf, carro, o que você quiser. Não ficar morgando que dá pra ganhar um dinheiro legal.”, diz ele.
Já no domingo, encontrei um cara agonizando sobre um colchão todo estropiado na Rua Martim Francisco. Me apresentei, falei sobre a matéria e perguntei se podia lhe dar algum alimento pra gente bater um papo. Disse que queria apenas água. Comprei uma garrafa, um misto quente e um café, que foram rapidamente devorados. Não pude deixar de notar que sua perna estava mais fina que meu braço.
Carlos tem 26 anos e não conheceu seus pais. Nasceu na cidade de Carapicuíba e foi criado pelos avós. Quando faleceram, há 6 anos, seu tio botou a casa abaixo e para ele não restou outro lugar senão a rua. Foi onde começou a fumar pedra.
O rapaz tem o ensino médio completo e já chegou a trabalhar com carteira assinada, como conferente e separador de almoxarifado. De um emprego foi mandado embora. No outro, a firma faliu. No último, pediu para sair. Hoje, o dinheiro que consegue é catando latinhas.
Carlos também tem uma filha, mas sem contato. Enquanto a gente conversava, o cara se remexia o tempo todo com dores no corpo. Disse que estava assim desde sexta-feira. Vai saber há quanto tempo não comia, dormia, essas necessidades básicas de qualquer ser humano. Eu achava que a minha presença ali ao lado dele se tornaria apenas uma alucinação em sua mente. Porém, ao nos despedirmos, Carlos disse o meu nome e me desejou boa sorte com a matéria. Depois voltou a se deitar.
Na segunda-feira, encontrei o Richard um pouco mais pra cima de onde estava o Carlos na véspera. Richard é um cara articulado, que fala com muita lucidez e cujo carisma atinge a todos que passam. Comenta sobre futebol com o menino que sai do prédio, fala saúde quando uma senhora espirra. Seu bom humor contrasta incrivelmente com a violência que vem marcando episódio após episódio de sua vida.
Nascido em Recife, filho de mãe paraibana e pai pernambucano, Richard foi criado no bairro deSão Mateus, Zona Leste paulistana. De seus dois irmãos, um morreu em meio a uma roleta russa.
Na infância, as surras com barra de ferro eram constantes. Em algumas ocasiões, chegava a ser acorrentado na parede. E, após espancá-lo, o pai proibia que fosse para o colégio, como forma de evitar ser denunciado pela direção por conta dos hematomas. O ciclo se fechava com Richard quebrando qualquer pertence que fosse do pai, o que virava motivo para mais surras. Nas palavras dele: “Criança é danada. Mas não vem ao caso cometer uma fita dessas, certo? Ele me espancava de verdade. Nem um animal merece isso, né mano? Eu falava pra ele assim: você tá criando uma cobra!”
Foi o próprio pai quem o colocou para fora de casa há cerca de 10 anos, quando percebeu que o filho estava se envolvendo com a malandragem do bairro e começando a praticar delitos. De lá para cá, Richard já deu e tomou tiro, facada e certa vez foi atropelado de madrugada enquanto puxava a carroça que usa para coletar do lixo materiais recicláveis. O motorista fugiu e quem o socorreu foi um senhor que ele não faz ideia de quem seja, pois passou um mês desacordado, em coma no hospital. Placas, pinos, parafusos e cicatrizes fazem parte da sua anatomia atual. Apesar de já ter almoçado, não recusou a refeição que ofereci. Entre as opções bisteca, picadinho e músculo, Richard opta pela última, para fortalecer sua perna baleada. Uma garrafa d’água e dois Sonhos de Valsa acompanham.
Richard ainda mantém contato com a mãe, hoje divorciada. É ela que tem a guarda do filho dele de 11 anos, que estuda em colégio particular e faz aulas de inglês. Quando fala do filho, seu lado maloqueiro dá lugar a uma certa ternura. Mas quando pergunto se ele não gostaria de sair da rua, responde francamente: “Vontade de sair da rua eu tenho, mas quer saber? Quando vou pra dentro de uma casa, me sinto trancado. Parece que eu tô numa caixa de fósforo. Eu tô acostumado assim, tá ligado? Levanto e já tô na rua já. Sou que nem um passarinho: onde eu quiser ir, eu vou. Ninguém me impede. Não tem muro de arrimo na minha frente, não tem portão pra abrir. Tenho paz.”
Richard não autorizou que eu tirasse fotos de seu rosto.
Na terça-feira, saí em busca do último protagonista dessa matéria. E, perto de uma alça doMinhocão, o Bahia me chamou a atenção com sua barraquinha de artesanato feito com latinhas de alumínio.
De início, ele se mostrou um pouco resistente a conversar. O motivo é que, há algum tempo, uma jornalista o acordara no meio da madrugada para uma entrevista: “Aí eu assustei. Falei pra ela: presta atenção, num é assim que acorda as pessoas! Você podia ao menos dar bom dia primeiramente pra gente conversar, né? Eu num vou fazer entrevista, não!”, conta ele. O gelo para mim foi quebrado quando sinalizei a ele que pagaria seu almoço.
Bahia, que na verdade se chama Sidnelson, nasceu na cidade de Irecê, no interior do estado que lhe concede o apelido. No total, eram 21 irmãos, 15 homens e 6 mulheres. Aos 43 anos, Bahia possui uma casa, mas há dois anos vive nas ruas. O motivo ele tem na ponta da língua: cachaça.“Eu bebia demais, rapaz. Era uma atrás da outra. Quase perdi minha família por causa disso. Um dia, eu sentado ali do outro lado, tava chovendo. Aí eu pensei: pô, tenho minha casa e tô aqui num papelão na rua. Tenho meus irmãos, amo pescar de final de semana, minha irmã tem um sítio… Eu tava com um maço de cigarros e um litro de cachaça. Virei a garrafa inteira no chão, quebrei os cigarros um por um. E na minha boca isso não vai entrar mais. Agora eu vou pra casa. Se Deus quiser, eu vou. Aí quando chegar vou arrumar um serviço pra eu trabalhar”. Segundo ele, lá se vão um ano e dois meses de cara limpa.
Pergunto o que está esperando para retornar. Me diz que apenas aguarda chegar um cartão no endereço da loja logo ali em frente, cujo dono costuma ajudá-lo. E eu não consigo evitar interpretar que, na verdade, a insegurança e a pressão para não errar novamente devem ser grandes obstáculos para se reerguer após levar um tombo desses.
Atualmente, seu ganha-pão vem da venda do artesanato, que aprendeu a fazer de forma autodidata, e de folhas de Zona Azul: “Graças a deus, fome não passei. É uma coisa que nunca passei na minha vida. Se eu tiver com fome, mas com fome mesmo, eu chego e peço. Não vou meter a mão. Peço porque a vida, a liberdade, é tão gostoso. É o que há. Porcaria é você estar atrás das grades. Ou morrer.”
Pelo que pesquisei, o último censo da população de rua em São Paulo foi realizado em 2011, e na época eram mais de 6 mil pessoas vivendo ao relento e mais de 7 mil nos centros de acolhida. Não tenho informações para dizer se esses números aumentaram, se mantiveram ou diminuíram.
Se você deseja ajudar os moradores de rua de alguma forma, sempre dá para participar voluntariamente de grupos como o Entrega por SP ou qualquer outro que atue em seu bairro. Existem vários.
Mas o que fica dessa experiência é que podemos ter mais olho no olho, aproximação e fraternidade. Somos todos um só e, se não cuidarmos uns dos outros, não vai sobrar ninguém. Um simples “Bom dia, como vai?“ pode significar muito para quem está ali invisível. Em um mundo tão competitivo e individualista como esse nosso, demonstrar um pouco de compaixão é uma grande inovação.
Fotos: Daniel Boa Nova
Fonte: Hypeness
Emocionante, né? Por isso, separamos algumas matérias do nosso portal que podem te interessar:
Loja de Rua possibilita que moradores de rua escolham suas roupas
Trabalhando para transformar a vida de moradores de rua
Outro ponto de vista sobre os moradores de rua
Distribuindo Dignidade: roupas íntimas e absorventes para sem-teto
Homelessfonts: uma tipografia do bem