 Oficina capacita OSCs para uso prático da IA no dia a dia
Oficina capacita OSCs para uso prático da IA no dia a dia


A Semana do Meio Ambiente de 2024 teve como tema “Nossa terra. Nosso futuro. Nós somos a #GeraçãoRestauração”. A crise climática já é um problema global, e no Brasil, a recente catástrofe das enchentes no Rio Grande do Sul exemplifica esse cenário. No entanto, além das enchentes, a desertificação também é um problema grave. Esses extremos climáticos são resultados das mudanças climáticas, que causam chuvas excessivas em alguns momentos e secas em outros, afetando todo o sistema global.
Enquanto enfrentamos inundações e deslizamentos, não podemos ignorar que o estado do Rio Grande do Sul também sofre com secas e estiagens, 2023 foi o terceiro ano seguido de fortes estiagens no estado
Segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, até 40% das terras do planeta estão degradadas, afetando diretamente metade da população mundial e ameaçando cerca de metade do PIB global (US$ 44 trilhões). Desde 2000, o número e a duração das secas aumentaram 29%, e sem ação urgente, mais de três quartos da população mundial podem ser afetados até 2050.
A seguir, vamos entender como cada tipo de região é categorizada de acordo com o grau de risco e os sinais de desertificação. Também refletir sobre as causas e consequências desse fenômeno, e quais são as possíveis saídas para combate e mitigação de seus efeitos.
Definida pela ONU como o processo de degradação das terras em zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, a desertificação resulta de uma combinação de atividades humanas insustentáveis e mudanças climáticas. Esse fenômeno contribui para a perda de produtividade agrícola e aumento da pobreza, criando um ciclo vicioso de degradação ambiental e socioeconômica.
No Brasil, este problema é particularmente alarmante em regiões como o Nordeste, onde a desertificação avança de forma preocupante.
A Caatinga, por exemplo, é um bioma que sofre intensamente com a degradação ambiental e a desertificação, colocando em risco a biodiversidade e a subsistência das comunidades locais.
Essas regiões podem ser categorizadas de acordo com o grau de risco e os sinais de desertificação:
As principais causas estão enraizadas nas práticas humanas, principalmente empresariais. O desmatamento, impulsionado pela expansão agrícola e urbana, é um fator significativo que acelera a perda de cobertura vegetal.
Infelizmente, em um país onde o agronegócio é um pilar econômico, são comuns práticas agrícolas que resultam em impacto negativo ao meio ambiente, como a falta de rotação de culturas e o uso excessivo de fertilizantes químicos.
Esse processo não apenas reduz a biodiversidade, mas também expõe o solo à erosão e à degradação, tornando-o menos produtivo e mais suscetível à desertificação.
Outro fator crítico é a exploração excessiva dos recursos naturais. A gestão irresponsável da água e da vegetação, juntamente com a pecuária intensiva, leva à degradação dos ecossistemas. As pastagens intensivas provocam erosões graves, impedindo a regeneração natural da vegetação e deixando o solo vulnerável à desertificação.
Essas práticas, muitas vezes motivadas pela busca incessante de lucro a curto prazo, ignoram os impactos ambientais de longo prazo. Por isso, essas grandes corporações, ao promoverem práticas insustentáveis, são as principais responsáveis pela mitigação da desertificação, ao mesmo tempo, possuem o poder e os recursos para reverter essa tendência.
No Brasil, as queimadas representam uma grande ameaça à biodiversidade e à saúde humana, e também desempenham um papel significativo no processo de desertificação. De acordo com levantamentos do Mapbiomas, de 1985 a 2020, cerca de 14,42 milhões de hectares foram queimados pelo menos uma vez, resultando em uma redução de 10% na cobertura remanescente de vegetação nativa em todo o bioma. Em relação à hidrografia, a Caatinga registrou uma diminuição de 40% em sua superfície de água natural mapeada.
Essa degradação do solo e da vegetação aumenta a vulnerabilidade das áreas afetadas à desertificação, tornando o ambiente propício para a erosão e a perda de fertilidade do solo. Além disso, as queimadas liberam grandes quantidades de gases de efeito estufa na atmosfera, exacerbando ainda mais os efeitos das mudanças climáticas e criando um ciclo de degradação ambiental.
As consequências da desertificação são profundas e assumem diversas formas. A perda de solo fértil resulta em uma redução significativa na produtividade agrícola, ameaçando a segurança alimentar global.
De acordo com a ONU, mais de 24 bilhões de toneladas de solo fértil desaparecem anualmente, e se nada for feito, até 2050 poderemos perder 1,5 milhão de km² de terras agrícolas. Esse cenário teria um impacto direto na capacidade de alimentar uma população global crescente, exacerbando a fome e a pobreza em muitas regiões.
Portanto, é essencial adotar medidas urgentes para combater as queimadas e promover práticas sustentáveis de manejo da terra, a fim de proteger nossos ecossistemas e evitar a progressão da desertificação no Brasil.
Além de suas consequências ambientais e econômicas, a desertificação também destaca uma questão social urgente: o racismo ambiental. Este conceito se refere ao impacto desproporcional de problemas ambientais sobre comunidades vulnerabilizadas, que frequentemente são negligenciadas nas políticas públicas e nas iniciativas de mitigação.
As áreas mais afetadas por este fenômeno são geralmente habitadas por populações marginalizadas, incluindo comunidades indígenas, quilombolas e pequenos agricultores. Estas comunidades dependem diretamente da terra para sua subsistência, e a degradação do solo compromete sua capacidade de cultivar alimentos, acessar água limpa e manter suas formas tradicionais de vida.
A perda de produtividade agrícola, provocada pela desertificação, agrava a pobreza e a insegurança alimentar, perpetuando um ciclo de vulnerabilidade econômica e social.
Historicamente, as políticas de desenvolvimento e uso da terra no Brasil e em outras partes do mundo têm ignorado as necessidades e os direitos dessas comunidades. O desmatamento para a expansão agrícola, as queimadas criminosas e a exploração intensiva dos recursos naturais são frequentemente realizados sem consulta ou consentimento das populações locais.
Outro fator negativo é o despovoamento de áreas rurais, levando à perda de meios de subsistência, forçando as comunidades a migrarem para outras áreas. Esse deslocamento climático rural não apenas agrava os problemas sociais e econômicos, mas também resulta em uma perda de conhecimento tradicional sobre práticas agrícolas sustentáveis, exacerbando ainda mais o problema.
A falta de envolvimento dessas comunidades nas decisões que afetam suas terras e recursos exemplifica o racismo ambiental, onde os benefícios econômicos são colhidos por poucos enquanto os custos ambientais são suportados por muitos.
Para enfrentar a desertificação e o racismo ambiental associado, é preciso adotar uma abordagem inclusiva e equitativa. Isso envolve a criação de políticas públicas que reconheçam e protejam os direitos de comunidades vulnerabilizadas, garantindo sua participação ativa no planejamento e implementação de iniciativas de conservação e uso sustentável da terra.
Projetos de recuperação devem incluir a sabedoria e as práticas tradicionais dessas comunidades, que têm um conhecimento profundo e ancestral sobre a gestão sustentável dos recursos naturais.
As corporações devem adotar práticas de responsabilidade social corporativa que incluam o apoio a projetos de desenvolvimento comunitário e a implementação de tecnologias sustentáveis. O envolvimento e responsabilização ativa das empresas na promoção da sustentabilidade ambiental pode contribuir significativamente para a mitigação dos efeitos da desertificação.
Estamos vivendo um estado de emergência climática, a desertificação é um problema complexo que exige uma abordagem que vá além de um olhar simplista, demandando um esforço colaborativo. As empresas têm um papel central a desempenhar, não apenas como parte do problema, mas, mais importante, como parte da solução. Ao adotar práticas sustentáveis e investir na conservação dos recursos naturais, podemos mitigar os efeitos da desertificação.
Além das empresas, o governo também desempenha um importante papel na mitigação da desertificação, em seu dever de desenvolver e implementar políticas públicas que promovam o uso sustentável da terra, protegendo ecossistemas e apoiando as comunidades vulnerabilizadas.
O poder da cidadania não deve ser subestimado. Ao escolherem líderes e políticas que priorizem uma agenda ambiental sustentável, podemos influenciar de forma ativa decisões governamentais e corporativas. A participação ativa na defesa do meio ambiente e o apoio a iniciativas sustentáveis são fundamentais para criar um movimento global contra a desertificação.
O tempo já está correndo contra nós, e o planeta enfrenta um inimigo implacável: a própria humanidade. O custo da inação será irreparável!
Ao reconhecer as mudanças, abordar as injustiças climáticas e responsabilizar aqueles cujas ações impactam negativamente o meio ambiente, podemos promover um desenvolvimento mais justo e sustentável, garantindo que todas as pessoas tenham a oportunidade de viver de forma digna.
Seguimos em busca de justiça e em defesa do meio ambiente, por um futuro possível para todas as pessoas.
 Oficina capacita OSCs para uso prático da IA no dia a dia
Oficina capacita OSCs para uso prático da IA no dia a dia
 Trabalho escravo: só 4% dos réus recebem penas sobre todos os crimes
Trabalho escravo: só 4% dos réus recebem penas sobre todos os crimes
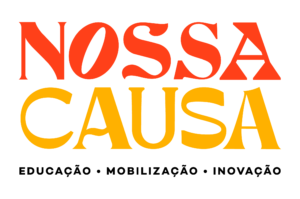
11 3251-4482
redacao@ongnews.com.br
Rua Manoel da Nóbrega, 354 – cj.32
Bela Vista | São Paulo–SP | CEP 04001-001
